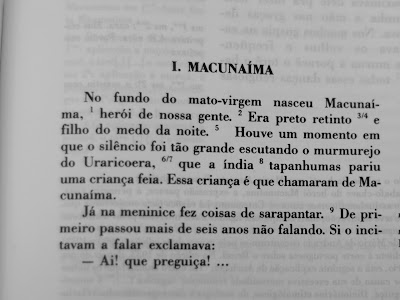quarta-feira, 26 de maio de 2010
segunda-feira, 3 de maio de 2010
sábado, 1 de maio de 2010
quarta-feira, 28 de abril de 2010
terça-feira, 27 de abril de 2010
sábado, 24 de abril de 2010
Pastoreio de Cabras com os Beduínos Jahalin
"Liberdade de fome e sede/da ambulante prisioneira./Não é que ela busque o difícil: é que a sabem capaz de pedra." (João Cabral de Melo Neto In Poema(s) da Cabra)
Não que eu não desejasse uma tarde cabralina no deserto da Judéia. Simplesmente, não esperava que pudesse ser tão bom, caminhar, sentar, conversar com os beduínos. Nem quando morei na caatinga baiana estive tão misturada entre as pedras e as cabras como hoje. As ovelhas estavam lá também. Quietinhas. Como são silenciosas as ovelhas, como são comportadas, não dão trabalho aos pastores. Em compensação as cabras são uma confusão. Hoje descobri que pastorear cabras é uma tarefa árdua, elas vão que vão, se dispersam em grupos e quando você repara estão todas em todos os lugares e sempre montanha acima. Mantê-las juntas não é tarefa fácil.
Passei, então, algumas horas com quatro pastores: Ali, Mohamed, Ahmad e Abu. Como eu havia previsto eles também me observaram por vários sábados, sempre a mesma hora, no mesmo lugar, fotografando seu pastoreio. Eu, sempre meio ao longe, no alto de uma montanha. Todo sábado. Aqui:
Então hoje uma cabra veio ao meu encontro. Ahmad veio atrás com seu burrico. E pudemos sorrir um para o outro. Ele desceu do jumento e eu pude lhe mostrar as fotos que venho fazendo faz dois meses. Ele ficou muito agradecido e perguntou se eu queria acompanhá-lo. Esperava dois meses por esse encontro, fui. Este é Ahmad no deserto da Judéia, beduíno Jahalin. Aviso que os beduínos não se deixam fotografar. Ainda não descobri porque. Mas adoram câmeras e fazer fotos. Ahmad queria que eu subisse no burrico. A hospitalidade começou aí. Eu não aceitei só porque imaginei que amanhã não conseguiria andar. Eu ri, negando. Ahmad achou graça na minha risada. Ele me perguntou num árabe remoto, denso e soletrado da onde eu era. . Eu disse Brasil, ele sorriu muito: Futebol. Uma palavra anjo, uma palavra gol de placa. Jogada celestial no deserto da Judéia. Os beduínos me mostrando sua malícia e sua raça.
Então acompanhei Amahd colina abaixo. Algumas cabras mézaram a tarde inteira enquanto eu conheci os outros três: Ali, Abu e Mohamed, um lider daqueles três pastores, ao menos, entendi assim. Depois descobri que foi Mohamed que disse para Ahmad trazer a cabra e e eu para perto deles que me esperavam embaixo de uma árvore com café árabe feito na hora, com fogo fátuo, nascido da areia. Levantaram-se quando cheguei, abrindo os braços e indicando para me sentar com eles. Mohamed quis ver minha câmera. Entreguei. Ele gostou desse ato e se tornou o fotógrafo do dia. Coloquei a câmera no automático e mostrei para ele, aperta aqui. Mohamed é o lider deles. É um moço muito forte, com os músculos delineados, dentes lindos e olhos ferinos, esverdeados. Ele é o dono dos camelos e das ovelhas que fotografo aos sábados. É menos docíl do que os outros e mais ligeiro também. Sua beleza causou-me uma profunda impressão de que queria fotografá-lo de qualquer maneira e que vai ser uma operação delicada, conquistada. Prefere ficar com minha máquina e me fotografar. Líder. Eles me receberam para um café nesse vale, embaixo dessas árvores:
Então, Mohamed, o fotógrafo registrou e roubou minha alma:
Sobre Cabras. Em casa, pastavam solenes. Um lugar onde eu posso plantar meus amigos, meus livros e nada mais:
Consegui fazer uma única imagem de Mohamed, por fim, sem ele perceber. Sábado que vem combinamos de nos encontrar para a entrega das fotos em papel. Ficaram felizes com o presente. Eu também. Cantaram em despedida para mim. Eu, emocionada, vi a esperança- essa coisa intelectual para mim e pro Zé Rodrigues- com muito menos óculos.
quinta-feira, 22 de abril de 2010
terça-feira, 20 de abril de 2010
Sobre Cadeiras e Ventos do Bem
"- Te peguei, niilista! O sedentarismo é justamente o pecado contra o espírito Santo. Apenas os pensamentos caminhados têm valor. Só se pode pensar e escrever sentado." ( Nietzsche)
Sentar em cadeiras é um dos próprios do homem que mais é dificultoso para mim. Odeio sentar. Sou uma pessoa afobada, atarantada, tenho bicho carpinteiro e não consigo assistir televisão apenas porque tenho que sentar. Sentar para mim é sinônimo de estar parada. Não gosto de ir ao cinema também. Sei que soa tosco. Mas é assim.
Nunca gostei de nada que nos obriga a sentar: assistir aulas e estudar e escrever. As duas últimas coisas eu só faço deitada ou em posição de leitora da corte francesa. Sou peripatética. Escrevo andando. É um tormento quando termino de escrever e tenho que sentar para colocar opensamento em desenho de letra. Sentar, definitivamente, não é um protocolo justinho para mim.
Também não gosto de ármários e tenho horror por paredes. É um tipo de privacidade que não me diz nada. Nem mesmo para ir ao banheiro. Adoro entrar para morar em casas vazias, essas, sem ármários. Odeio guarda-roupa, armário de cozinha, uma vida projetada, vamos dizer assim.
Mas cadeira é meu calcanhar de Aquiles. Daí meu gosto pela fotografia que me obriga a ficar zanzando, bater perna. Escrevo copiosa e verborragicamente, mesmo assim. Sei que sou uma máquina de escrever. Todas as minhas mesas tem que ser enormes. Agora, adquiri uma de um metro e meio de comprimento, estamos felizes, eu e ela. Mas havia a questão da cadeira. Claro que meu(s) oficio(s) me obrigam a ter uma cadeira confortável.
Fui ver o preço. Daria para comprar umas duas ou duas e meia mesas iguais a que comprei. Desisti, simplesmente, porque odeio cadeiras, imagina, comprar uma. Foi fácil. Faz quase dois anos que moro em Israel e escrevo e leio na cama. Dois notebooks me acompanham. Ligados full time.
Duas ou três semanas atrás achei uma cadeira boa, dessas pretas, fortes, que giram de lá para cá, me esperando em frente ao lixo. Já escrevi um post aqui no blog sobre o lixo em Israel. Não é exatamente lixo: as pessoas deixam em frente ou perto coisas que não vão usar mais para quem necessita: livros é coisa comum. Enfim, tenho um post sobre isso aqui, provavelmente de 2009.
A cadeira estava um pouco capenga, não muito. Faltava uma rodinha que eu imediatamente substituí por um tijolo de dolomita enrolado lucianicamente com durex. Funcionou. A cadeira ia e vinha. Com a mesa nova, espaçosa e já bagunçada, a tal da cadeira começou a me incomodar. Nada demais. Apenas me incomodava olhar para ela com aquele tijolo como ornato. Ontem, feriado, não resisti: voltei a cadeira para o lugar que encontrei no lixo. Não sem antes desenrolar a prótese de tijolo. Queria entregá-la exatamente como a achei. Sou generosa mas, literal. Causo algumas confusões nas pessoas com duas características tão disformes, juntas. Vamos dizer que sou uma cangaceira altruísta, uma brasileira pé duro, adorável.
Enquanto trabalho, todos os dias, ando pela casa, abro a porta da rua, ando até a esquina e volto. Tudo ao mesmo tempo. Só não posso e não consigo ficar parada. Num desses vai e vem resolvi ir até o lixo da rua para ver se a cadeira estava lá. Estava. Levei um susto. Pisquei duas ou três vezes e me certifiquei que não estava pirada. Mas me senti bem doidinha por um átimo. Havia uma cadeira novinha, com plástico e tudo e rodinhas no pé. Inverossímel, eu sei, mas era para mim.
Por que? Muitas hipóteses. Poderia dizer que aqui é Israel e alguém deixou uma cadeira melhor no lugar para que eu mesma pegasse. Essa hipótese não é impossível aqui. Outra: alguém viu a cadeira que deixei e se lembrou que havia uma em casa sem serventia, aproveitou o ensejo e jogou fora. Mais uma, parecida com a anterior: trocaram as cadeiras. A minha ex não estava lá, a outra, igualzinha estava: alguém se divertiu fazendo isso, uniu o lixo ao agradável. Mas a hipótese de que mais gosto é a de que um vento bom do deserto passou por ali e me deixou um recado mais ou menos assim: "Toma sua cadeira. Você merece uma cadeira nova."
sábado, 20 de março de 2010
O Inconfessável: Escrever Não é Preciso por Alcir Pécora
fazer o que seja é inútil.
Não fazer nada é inútil. Mas entre fazer e não fazer
mais vale o inútil do não-fazer
(O Artista Inconfessável. Museu de Tudo, 1975, João Cabral, adulterado)
1. Ao contrário do que usualmente se supõe, a passagem dos anos não tem obrigação nenhuma de revelar algum grande autor ou mesmo um autor apenas razoavelmente bom. A regra estava valendo para o passado que revelou tantos autores extraordinários, quanto vale para os próximos cem ou mil anos, que talvez nunca vejam nenhum outro, assim como podem ver centenas deles. Se grandes autores apareceram com regularidade, ou aparecerão da mesma forma, isto são contingências, não necessidade ou decorrência lógica de um conjunto quantitativo sempre crescente de escritos.
2. Antologias de autores promissores ou novos lançamentos de escritores contemporâneos não cessam de aparecer, por piores que sejam eles. Alguns são jovens, outros são célebres, outros são simples amigos do editor: qualquer coisa basta. Por isso mesmo, nada é suficiente como critério de edição, e o publicado basicamente ajuda a encobrir a percepção evidente de que não há nada de relevante sendo escrito, e nem mesmo há indícios de que essa relevância possa ser descoberta outra vez no domínio da literatura.
3. Não parece haver nada relevante sendo escrito, e esta é a mais provável razão desse poço, desse mar de coisa escrita.
4. A suposta necessidade de aparecimento de novos grandes autores é, no melhor dos casos, apenas uma reação contra a situação de contingência radical que é a nossa. Nada garante, entretanto, que, no futuro, leremos algum novo grande autor, a despeito de todos os grandes que existiram antes. A despeito mesmo da probabilidade amigável de que, num mundo sem fim, algum escritor decente se ponha de pé, e ande, assim como num mundo de macacos há boa probabilidade de que um deles possa tomar um desvio inesperado em sua evolução e virar homem.
5. Probabilidade, mesmo uma boa probabilidade, não é necessidade, mas apenas média projetada de eventos. Resulta, portanto, que um grande autor é o resultado imponderável de um conjunto de circunstâncias e ocorrências inesperadas sem qualquer garantia de repetição de seus termos de existência.
6. A suposta necessidade, já agora como hipótese medianamente ruim, se apresenta como um efeito psicológico primário associado a uma estratégia usual de mercado que finge lançar novos produtos “definitivos” a cada dia. Isto posto, é certo que nenhum crime contra-natura foi cometido, quando se percebe como são poucos os escritores brasileiros surgidos nos últimos 30 anos a que se poderia aplicar a categoria de autor a sério.
7. Agora, na pior das hipóteses possíveis, as publicações de novos bem como as novas publicações, salvo raríssimas e imponderáveis exceções, nascem da crença efetiva de que eles tenham realmente qualidades de grande autor. Evidentemente, há pouco a fazer em casos assim. Pode-se, por exemplo, tentar falar mal da antologia ou dos autores em questão, mas não há a menor chance de que eles não se julguem perseguidos pessoalmente por um crítico desonesto e mau-caráter. Um ou outro (os melhores deles), com muita sorte, deixarão de escrever, mas a maioria absoluta – ao menos enquanto continuar sem sucesso - tratará apenas de aumentar a cumplicidade e a camaradagem que guarda entre si (cf. Leopardi, Pensieri: il mondo è una lega di birbanti contro gli uomini da bene).
8. Se me perguntarem o que imagino definir a seriedade de um escritor, o que me vem primeiro à cabeça é justamente a idéia de alguém que busca resistir à vulgarização do escrito. Isto é, penso em alguém que admite, mesmo contra o seu mais íntimo desejo e a sua mais teimosa vontade, que absolutamente nada o obriga a escrever, a não ser uma falácia lógica tomada como falso imperativo de cultura.
9. Uma vez que seja assim, o escritor sério deve pensar mil vezes antes de se pôr a escrever. De preferência, como efeito de ter pensado seriamente no assunto, deve inclinar-se a não fazê-lo. Não admira, deste ponto de vista, que um pensador sério como Giorgio Agamben, imagine que Bartleby, o escrivão que se recusa a escrever, seja o melhor exemplo de um escritor que conhece a sua contingência e não abusa de sua condição fazendo o que faria melhor desde que não o fizesse. Quer dizer, quanto melhor fosse potencialmente o escritor, menos poderia sê-lo em ato, por absoluto pudor de tornar-se apenas um cotejador e copiador de uma montanha de outros escritos, já produzidos, sem senso nem motivo a não ser o de girar a própria engrenagem burocrática de escrever.
10. Mas não precisamos chegar à inteligência superior de Bartleby ou àquela que o criou, ele mesmo personagem de uma obra-prima altamente improvável. Se escrever não é preciso, alguma auto-crítica não faria mal ao aspirante de escritor ou ao escritor de ofício. Ao contrário, faria um bem enorme, a ele e a nós. Luis Antonio Verney, homem de não poucas luzes, insistia em que o pretendente talvez fosse mais útil, ou menos irrelevante, trabalhando com rigor em alguma outra coisa mais à medida de seu talento, que fosse igualmente mais útil à república.
11. Se escrever não é preciso, devemos absolutamente concordar com Horácio quando nos diz que não é razoável retirar do poço os escritores que tiverem o bom senso de se atirar lá, fingindo inspiração ou loucura. Simplesmente não é civil salvar escritores da morte prematura.
12. Pessoalmente, por incorrigível vezo de criação católica, sugeriria aos jovens pretendentes que, se não têm um poço por perto, tentassem antes a vida como copydesk, ou como tradutor de algum texto de escritor reconhecidamente superior de outros tempos e lugares (se bem que, muito provavelmente, neste caso, eles acabariam por arrastá-lo para a mediocridade em que vivem), ou mesmo, em último caso – mas último caso mesmo --, que puxassem o saco de alguém que lhes descolasse alguns trabalhinhos free lance numa página de cultura ou numa editora mainstream.
13. Quaisquer dessas atividades modestas -- mas não baixas, pois apenas puxar o saco é verdadeiramente baixo, embora não tanto quanto escrever porcamente (cf. Bernardo Soares e o horror dos aleijões da página mal escrita) --, além de tantas outras atividades verdadeiramente medíocres que podemos imaginar, valem muito mais a pena do que escrever, tanto em termos públicos quanto pessoais. Ao menos, são atividades seguramente menos irritantes para os outros, obrigados (por educação ou por sentimento cristão) a ler tanta irrelevância escrita. Mas deixar de escrever, sobretudo, será (seria) um enorme alívio para o próprio pretendente a escritor, que se livraria do fardo de afetar um talento que não possui e de ter de se expor continuamente à crítica de algum detrator malvado.
14. Enfim, não adianta disfarçar, escrever, em geral, é apenas deixar-se arrastar pela maré dos lugares comuns sub-letrados. É anunciar mais cedo a própria inexistência, a própria morte irreparável como autor. Publish and Perish, disse muito propriamente Marjorie Perloff.
15. Paradoxalmente, uma maneira de adiar a compreensão simples da absoluta não necessidade de escrever é pretender humildemente que escrever seja justamente apenas mais uma atividade entre outras, e o escritor, alma singela, apenas mais um homem comum, por mais coquette que se apresente em seus gestos e maneiras.
16. Chamo a isso especificamente “pretensão” e não, por exemplo, “desejo”, porque não há um só sujeito, que afirme que escrever seja uma coisa qualquer, que saiba também tirar a conseqüência óbvia dessa afirmação: a de que seja uma atividade tonta, indiferente e desprovida de valor pessoal ou público como a maioria absoluta de todas as outras atividades comuns e quaisquer.
17. Se não se tratasse de pura afetação arrivista, o escritor pretendente a gente comum teria de concluir que a inserção da literatura no patamar da vida média se traduz como uma simples rotina, um automatismo, cujo pressuposto (necessário, portanto) é apenas a adesão ao lugar comum. Enquanto tal, é basicamente forma de alienação da vontade própria em favor, digamos, do ganha-pão, o que definitivamente nada tem a ver com um projeto de criação artística, autocriação pessoal ou intervenção pública através da literatura produzida.
18. A conseqüência, pois, da pretensão da escrita como atividade ordinária é a de que escrever não apenas não constitui autores, enquanto criadores, como, ao contrário, submete-os rapidamente ao movimento da prática tosca e maquinal de reprodução do mundo no estado de merda no qual existe.
19. Esse maquinismo fabril-escriturário tem como desfecho infeliz um mar de escritos. Nessas circunstâncias, que papel feio não fazem os escritores! Para fazer deles uma imagem apenas ruim e não odiosa, teríamos de vê-los como um amontoado de corpos devolvidos à praia, pois, como alertava o quinhentista Bernardim Ribeiro, o mar não sofre coisa morta.
20. Na praia inglória, findam sobretudo jovens escritores, novas promessas, futuros talentos. De modo algum, entretanto, devemos nos comover, pelo mesmo motivo que repreendia Virgílio a Dante, enquanto observavam os sofrimentos dos precitos: é simplesmente justo. Ademais, não faz a menor diferença para nós: juventude, novidade e futuro são apenas faces simpáticas do mesmo engano que dissolve a qualificação ou a excelência do autor na banalidade do escrito.
21. Exatamente porque escrever não é preciso, escrever pode ser tudo menos uma atividade entre outras quaisquer. Escrever é um ato que, de saída, já deve uma explicação: ele tem de reinventar a sua própria relevância, a cada vez, ou então condenar-se a ser apenas uma idéia torta de novidade: o retorno do mesmo, piorado.
22. Cada escritor, conformado com a condição de exercer uma atividade ordinária, dissolve a sua vida numa linha que enuncia inexoravelmente o mesmo: o escrito é apenas uma forma de morte vil.
23. Isto é o que se pode dizer dos autores e da literatura mediana, que é o único ofício que não admite mediania virtuosa: Horácio revém. Isto é, em matéria literária, ou se é radicalmente bom, ou se é radicalmente imprestável.
24. Da crítica, entretanto, não se pode dizer o mesmo. Longe de se atirar com a força e a ingenuidade estúpida da juventude contra o mar de quantidade que a devora e contra o qual nada pode (a não ser acreditar baixamente que a banalidade é a destinação universal da escrita), a crítica foi sendo morta na cama, enquanto dormia, e seu corpo paulatinamente sendo substituído por simulacros que Foucault (cf.) chamou certa vez de meninos bonitos da cultura.
25. A especialidade dos meninos bonitos, na perfeita inversão que caracteriza a atividade dos invasores de corpos, não é evidentemente a crítica, mas o seu contrário: o colunismo social.
26. A crise aqui é a total falta de crise. A desistência da crise é a matéria básica de que se formam os bodysnatchers durante o sono da crítica. Eles são sempre gente boa, simpática, quase variantes sem mandato de vereadores e deputados, cuja habilidade profissional se mede pelo coeficiente de agilidade com que barganham os votos dos leitores pelo tráfego entre os agentes institucionais da literatura, vale dizer, grupos universitários de poder, lobbies de editoras, cadernos culturais da grande mídia, revistas literárias com algum público ou prestígio etc. O coeficiente de barganha se nutre da capacidade de estabelecimento de um círculo de cumplicidade, auto-proteção e confirmação mútua entre todos os participantes do sistema de tráfego em questão.
27. Claro que isto tudo pressupõe a adesão, mesmo inconsciente, a lugares comuns e paradigmas teóricos conhecidos e transformados já em imperativos políticos e institucionais de circunstância, os quais são, por definição, conservadores – o que nos traz de volta ao autor enquanto prático de uma atividade ordinária. Neste aspecto, o diferencial do dublê de crítico é a faculdade de se manter completamente cego diante de tudo que possa revelar o profundo desinteresse, o imenso tédio das práticas literárias contemporâneas.
28. Os meninos bonitos estão lá, no meio da névoa cerrada do presente sem futuro, pintando freneticamente de luz as sombras de sono e banalidade de que são feitos. Com seu farol tingido, asseguram aos passantes que tudo vai bem, que aquele mar não é abismo, que aquele poço tem fundo, que novos grandes autores estão surgindo naturalmente, que novas obras-primas continuam a ser geradas, e até que a literatura de “nosso país” é fecunda e pujante.
29. Quando se chega a esse anúncio maravilhoso, o sistema de tráfego de banalidades está completo. O escritor qualquer coisa encontra o seu crítico sem crise. Admiram-se, respeitam-se, amam-se.
30. Se os meninos bonitos fossem mais que invasores de corpos, os quais despossuíram de crítica, tudo o que deveriam ou poderiam fazer era iluminar as trevas da própria cegueira, a obnubilação do sono, o cerco implacável do nevoeiro feito de tédio, ignorância, arrivismo e inconseqüência a que estamos submetidos quando escrevemos.
31. Escrever como atividade média é o grau zero da necessidade e da utilidade.
32. Neste cenário de horror banal, mas que curiosamente se representa como euforia de criação, pouquíssima gente destoa. Isto ocorre porque quase toda gente acha, com razão, que pode fazer parte do elenco de “grandes autores”, ultimamente identificado com a mediania das atividades quaisquer. Claro que, nessas circunstâncias, muito mais difícil e desejável é, por exemplo, obter um bom emprego.
33. Os poucos e raros que desacreditam de escrever, isto é, que não entendem a escrita como atividade necessária e mediana, entendem também que praticá-la é apenas confirmá-la moribunda ou já defunta, mas não enterrá-la de vez. Escrever, freqüentemente, é apenas um cadáver que passeia, um defunto que procria e multiplica, como o homem; ou que faz cento por um, como o semen de Deus, mas cujos frutos apenas proliferam a secura e o vazio.
34. Se escrever é prática vulgar e inútil, melhor é não-fazer (ao contrário do que pensava Cabral, que tinha, entretanto, razão, enquanto era ele a fazê-lo).
35. Nenhum motivo é bastante para escrever. Não precisamos de entretenimentos. Precisamos ainda menos de ficção, de estética, de fazer de conta que não estamos saturados de ficção no campo comum da atividade medíocre. Não precisamos de mais atividade na roda.
36. A condição do escrever é a crise. A literatura que vale a pena que escreve responde pela destruição do escrito ou simplesmente já não responde a nada.
37. O mar não sofre coisa morta etc.
13 de outubro de 2005
domingo, 28 de fevereiro de 2010
Oh Valsa Latejante! Ou Sobre minha Desastrada Visita ao sr José Mindlin.
Pois é. Eu disse que não ia postar mais textos de minha autoria e cá estou. Faz dois dias que tento encaixotar minha mudança para o deserto da Judéia e faz dois dias que toda minha pequena casa está espalhada pelo chão, faz dois dias que não tenho por onde andar e que firmo o pé no piso de azulejo possível. Faz dois dias que abri os armários, joguei tudo que havia dentro deles no chão, porque achei que era a única saída para a mudança começar a acontecer e o máximo que consegui foi ficar na cama, único espaço possível, escrevendo e fumando, sem parar. Sim, eu fumo. Sim, eu escrevo. Invejo essa gente que fuma e não escreve ou essa gente que escreve e não fuma. Eu escrevo e fumo. Fumo e escrevo. Lavei a louca. Essa palavra maravilhosa sem cedilha que solta bolinhas de sabão na pia imunda. Eu tenho saudades do tempo que em via o Plinio Marcos descer a rua da Consolação a pé e a gente dentro do bar dizia rindo: Olha, o Plinio Marcos!
Hoje realizo um sonho antigo: escrever "Oh Valsa latejante"!
O mote surge com a morte, hoje, do José Mindlin, o bibliófilo. A mudança fica para mais tarde pois creio ser um dever cívico cultural contar a história do meu desastrado encontro com o Mindlin.
Então, sabe lá em que era glacial estávamos, eu recolhia entrevistas sobre as livrarias antigas de São Paulo. Tenho depoimento e texto inédito do Antonio Candido, que, ao me atender, abriu a porta para que ninguém mais pudesse me dizer não, não posso atendê-la. Do António Candido - cujo original eu deixei com o Amilcar Torrão quando parti do Brasil- fui contemplada com uma tarde e um depoimento e bolachinhas sem igual na mesa de jacarandá da casa do Pacaembu do Décio de Almeida Prado. O maravilhoso texto do Décio saiu integral no Caderno Dois do Estadão e para garantir uma permanência a mais, creio que o doei para a Marisa Lajolo, que possui estudos na Unicamp de Memória da Leitura. Dali do Pacaembu parti para o uma longa entrevista e uma longa amizade, no Rio de Janeiro, com o Plinio Doyle. O resumo desse encontro saiu em uma matéria na Gazeta Mercantil. Nem sei se esse jornal existe mais tão longe me encontrol. Para que eu fazia todas essas entrevistas? Para nada. Sempre fiz coisas interessantes em troca de uma boa conversa coisa que me garantia passar o tempo no que eu julgava ser uma forma menos burra de enganar o tédio.
Foi com esses cartões de visita anteriores, portanto, que o sr. José Mindlin, reservou uma manhã para me dar uma entrevista em sua casa, dentro da sua famosa biblioteca. Adianto, desde já que foi uma lástima, salvo que minha mãe foi me buscar e me levou num restaurante indiano chiquérrimo que havia ao lado da casa do Sr Mindlin, chamado Ganesha. Fechou, acho.
O senhor Mindlin me atendeu na sala, com sofás e estantes brancas que iam de parede a parede. Alertou-me que ali ficavam seus livros preferidos ou mais raros. Todas aquelas lombadas encadernadas e bem dispostas causou-me uma certa infelicidade e minha indisposição frente à tamanha beleza causou-me uma impressão incomoda de mim mesma. Só anos mais tarde, quando me inteirei da bagunça caótica do escritório do Haroldo de Campos na rua Monte Alegre e também da confusão insandecida do lugar ( diga-se, mesa) onde o João Ubaldo escreve é que pude sorrir aliviada do horror que senti na organizada biblioteca do sr. Mindlin.
A entrevista foi, como antecipei anteriormente, catastrófica. Tenho as fitas gravadas. Sim, cassetes, guardadíssimas. Nunca as escutei de novo. Eu havia chegado ao sr. Mindlin, um sujeito simpático, pacato, uma delicia estar com ele, aliás, com um objetivo que ele jamais poderia supor enquanto me convidava para sentar ao sofá: eu queria entrevistá-lo, assim expliquei, porque você é minha única fonte sobre Rubem Borba de Moraes. E continuei: quero saber sobre como você adquiriu os livros do Rubem Borba que formam a essência mais rara da sua biblioteca, expliquei educadamente.
Eu sabia como os livros tinham sido adquiridos. Rubem Borba, já sem dinheiro e sem saúde, foi vendendo livro por livro para o Mindlin, mas eu queria os detalhes das histórias das compras dos livros do Rubem Borba de Moraes, o maior bibliófilo que o Brasil já teve antes do Plinio Doyle, grande amigo meu e de todo o resto do mundo ( uma festa esse Plinio Doyle, era só ir chegando).
E aconteceu que o sr. Mindlin se desencantou da entrevista imediatamente. Levantou-se do sofá e caminhou em direção a sua vasta estante me dizendo que ele possuia raridades que precisa me mostrar. Do Rubem Borba, perguntei. Não, não, olha esse livro e estendeu a mão para pegá-lo, venha até aqui ver. Um livro muito, muito raro. E o senhor Mindlin abrindo a capa belamente encadernada me mostrou aquela lindeza:
- Está vendo? Livro rarissímo do Sergio Milliet, edições Gaveta, Oh Valsa Latejante! me mostrando a capa beje e macia com as letras pretas.
Eu sorri. Ah, sr Mindlin, eu tenho esse livro e autografado. E ele então, não se deu por rogado, e como quem conhece livro por livro da sua biblioteca caminhou até uma estante onde ficava um livrozinho: esse aqui então é mais raro! Olha! e o titulo me dizia: Domingo dos Séculos: Rubem Borba de Moraes. ah, disse eu, esse também tenho e autografado também!
Mas você tem tudo, disse-me então o sr. Mindlin, desconcertado. No que eu respondi, não, não, eu só tenho esses dois. E foi assim que terminou nossa entrevista.
Onde foram parar meus livros e porque eu os tinha. Bem, o Oh Valsa Latejante, eu dei de presente para o Marcello Moreira. Marcello também esta com o uso capião do meu exemplar da História da Literatura Brasileira do Varhagem. Primeira edição preciosa que o Plinio Doyle ofertou para a inauguração da Casa do Livro Azul: livreiros antiquários e que na devassa da livraria e da minha infinita história com o Luiz Puech, ficou comigo. Os outros dois livros citados perfazem o mesmo caminho. Ficaram comigo na devassa da devassa. O Domingo dos Séculos, acabei trocando com o Garaldi, também livreiro, por uma primeira edição do Mário de Sá Carneiro, infinitamente rara e que eu ofertei para o Rui Moreira Leite e não tenho mais a mínima lembrança do título da obra, só me recordo que era algo impossível ao Rui que eu tornei possível num piscar de olhos do Garaldi, que se divertiu com o meu ato de generosidade, já que eu não tinha um gato para puxar com o rabo, enquanto o sr. Rui Moreira Leite possuía mil gatos gordos e castrados e bem alimentados.
Mas voltando ao Mindlin. Acabei, sem querer, causando um impacto enorme no Professor Antonio Candido, numa outra visita e conversávamos alegremente numa tarde paulistana no seu novo apartamento na rua Joaquim Eugênio de Lima com flores na escrivaninha. Naquele ano, o professor faria 80 anos. Creio que foi uma visita de aniversário. O professor Antonio Candido sempre gostou de mim e eu sempre gostei de fazê-lo gargalhar com minhas histórias enquanto cruzava as pernas e me ouvia atentamente.
Aliás, foi uma das poucas pessoas que sempre me ouviu e por isso eu voltava sempre. Naquela época, me fazia muito bem que ninguém me dava muita trela e o professor me ouvia. Ouvia e ria. Creio que me recebia, era sempre ocupado, porque ria muito. Eu nunca fui engraçada. Ele ria porque gostava das minhas observações sobre tudo e todos que pertenciam ao mundinho dos escritores e da crítica literária. E foi numa dessas conversas que falávamos sobre a importância de ser leitor, que ser leitor era tão complexo quanto ser escritor e que bons leitores, assim como bons escritores, eram tão raros e etc e tal e o professor, muito comedido, com aquele seu português entoado de educação, comentou:
-Sabe que o Mindlin é um grande leitor? Todos os dias lê no carro na ida e na volta do trabalho, porque o trânsito é muito, de maneira que então ele vai no banco de trás lendo enquanto motorista guia...
Era demais para os meus brios butantã-Usp, linha que eu conhecia de cabo a rabo, de Santana até a Usp, rua por rua, viela por viela entre a Casa Verde e a cardeal Arco Verde em Pinheiros, perdendo grampos e amassando as páginas xerocadas no ônibus lotado de estudantes que como eu, lutavam apenas por um lugar vazio.
- Grande leitora sou eu que leio no ônibus, professor, não o Mindlin!
Naquele dia o professor não riu. Ficou impávido. Se ajeitou na poltrona e colocou as mãos nos queixo como quem aprendia alguma lição interessante de sociologia . E mudamos de assunto.
Assinar:
Postagens (Atom)